“... é preciso considerar que a
concepção dos alquimistas quanto à transubstanciação dos elementos é válida, ao
menos no interior dos caldeirões estelares. O problema dos alquimistas, para
tirar partido de alguma alegoria, é que dispunham de um fogo fraco e de uma
panela pequena.” (Ulisses Capozzoli – As Fronteiras Móveis do Conhecimento –
Prêmios Nobel da Scientific American – Vol. I – Pág 07)
“O nosso Universo é apenas um de um
infinito número de Universos, todos eles ‘Filhos da Necessidade’ porque, na
grande cadeia cósmica de Universos, cada elo encontra-se numa relação de
efeito, com referência ao antecessor, e de causa, com referência ao sucessor.”
(Helena Blavatsky – A Voz do Silêncio,1889 – Ed. Martin Claret)
“A fim de demonstrar o modo como uma
alma procura realizar-se na imagem do mundo ambiente, e para fazer ver a razão
por que a cultura realizada é expressão e cópia de uma ideia de existência
humana, sirvo-me do exemplo do número, elemento dado no qual se baseia toda a
Matemática. Escolhi o número, uma vez que a Matemática, cujas profundezas mais
remotas só poucas pessoas conseguem sondar, ocupa um lugar peculiar entre as
criações do espírito. Até aos nossos dias, toda e qualquer filosofia deve a sua
origem ao contato com uma Matemática correspondente. O número é o símbolo da
necessidade causal. Contém, da mesma forma que o conceito de Deus, o último
sentido do Universo como natureza. Por isso, pode-se afirmar que a existência
dos números é um mistério, e nenhum sentimento religioso de cultura alguma
jamais se esquivou a essa impressão.” (A Decadência do Ocidente – Oswald
Spengler- Editora Universidade de Brasília)
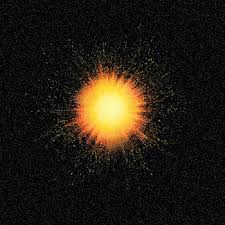 |
| Big Bang |
Desde que Heisenberg definiu as novas fronteiras da pesquisa
molecular e do estudo das partículas subatômicas com sua Lei da Incerteza as
máximas newtonianas deixaram de expressar de forma única a realidade que nos
cerca como observadores dos fenômenos e dos movimentos do Universo. Uma nova hermenêutica e semântica
foram necessárias ser desenvolvidas para melhor definir a dimensão dos fenômenos
quânticos e da interação da matéria no microcosmo. Como não poderia deixar de
ser o estudo do infinitesimal influenciou também a cosmologia e abriu novas
janelas para estudar o momento da Criação do Universo, o Big Bang, evento que,
todavia ainda encontra-se em andamento, com a expansão contínua do espaço-tempo, nesse exato e preciso momento.
A ideia de
que a Vida pulsa em todo o Universo (Panspermia)
e se espalha como sementes pela pressão da radiação de estrelas para prosperar
em ambientes promissores toma cada vez mais corpo com as últimas descobertas das sondas
robóticas em Marte e da observação da existência de água em estado liquido em
planetas distantes de outros sistemas, a milhares de anos luz do Sol. Da mesma
forma os atuais oceanos terrestres, como se sabe, formaram-se do impacto de
astros oriundos do espaço profundo que carregavam em seu corpo o precioso
líquido formador da vida e interações eletrolíticas complexas através de descargas
atmosféricas geraram a atmosfera terrestre liberando gases e as primeiras
sementes e nucleotídeos nos oceanos primevos dando origem à formação da vida no
planeta que evoluiu da matéria bruta de origem estelar para a vida, de seres
monocelulares a pluricelulares e de estruturas biológicas mais complexas para
seres sencientes.
É
inquestionável, pelas recentes descobertas do mapeamento do código genético, a afirmação da
ligação entre todos os seres que habitam a biosfera de um elo comum. Os vegetais e animais de todas as espécies
possuem uma única origem estratificada no registro genético que faz parte de
toda a biodiversidade planetária. Não podemos deixar de notar a homologia nos padrões de
cromossomos do camundongo e do homem, por exemplo, a extensa sintenia (ocorrência de genes
no mesmo cromossomo ou em cromossomos homólogos) entre as duas espécies. Em
tabulação recente todos os autossomos humanos, com exceção do 13, mostraram ter
pelo menos dois locos (posição de um gene determinado) que são também
sintênicos no camundongo. O braço curto do cromossomo humano número 6 tem pelo
menos dez locos que estão no cromossomo 17 do camundongo. Por outro lado, a
associação de locos do 1 e do 9 humanos no cromossomo 4 do camundongo sugere
homeologia (similaridade de conteúdo gênico) entre os dois primeiros.
 |
| DNA e RNA |
Como podemos
considerar um ser vivo ? A questão tem sido levantada por vários cientistas e
sempre suscita discussões. B.O Kuppers procurou responder a questão através das
propriedades necessárias para que um sistema seja considerado vivo. Segundo o
pesquisador, tal sistema deveria ter: a) metabolismo (conjunto de processos
relacionados a nutrição, com a transformação do alimento em energia para o
organismo); b) auto-reprodução (capacidade de autoduplicação); e c)
mutabilidade (possibilidade de alteração no material genético). O metabolismo
subentende uma interação de um sistema aberto de troca controlada entre o meio
ambiente e o organismo, de matéria combustível e sua transformação em energia e implica também em uma fronteira entre a forma viva e seu meio. A
autorreplicação, por outro lado , implica em um estágio bem estruturado de
organização dos componentes do organismo e seus primeiros processos devem ter
sido no mínimo imperfeitos, o que provocou as mutações. No momento do
surgimento desses três processos, sugere Kuppers, a seleção natural
condicionará a sobrevivência das cópias mais aptas e automaticamente
desencadeará o processo evolucionário.
L.E. Orgel
indica os seguintes requisitos, que segundo ele seriam necessários e
suficientes para qualificar um organismo como vivo: a) ele deve ter uma
complexidade especificada; e b) deve ser capaz de se reproduzir. Isso exigiria
que o organismo fosse um produto da seleção natural e que a informação
necessária para especificá-lo fosse contida numa estrutura estável para o seu
período de vida reprodutiva.
Já A. Lima
de Faria dá ênfase ainda maior aos aspectos estruturais do organismo, definindo
a vida como uma canalização atômica que se situa em confronto com o restante
menos organizado do Universo. Para ele a vida é inerente à estrutura do
Universo, e completa: “Um organismo é apenas um dos espelhos que o Universo usa
para se olhar”. Por definição ainda C. Bernard, concentrando-se nos processos
metabólicos vitais, de anabolismo (construção) e de catabolismo (destruição)
elaborou dois aforismos: “A Vida é a criação” e, paradoxalmente, “A Vida é
morte”.
 |
| Expansão do Universo |
A Simetria
Perfeita –
O evento
denominado Big Bang, como estabelece o termo, dá a noção de uma explosão
desordenada, fruto do aquecimento aleatório e da concentração em algum tempo
finito no passado, segundo os cosmólogos, há pelo menos 13, 9 bilhões de anos,
quando toda a matéria existente no Universo estava reunida em um átomo
primordial e expandiu-se em determinado momento gerando todos os fenômenos e
partículas ora existentes. O evento de expansão ocasionou um esfriamento
conforme a matéria distanciou-se do seu ponto zero. É isto que ensinam os
estudiosos.
Na
relatividade geral de Einstein tempo e espaço não existem independentemente do
Universo ou um do outro. São definidos como mensurações dentro do Universo,
como o número de vibrações em um cristal de quartzo de um relógio ou o
comprimento de uma régua. É perfeitamente concebível que o tempo, definido
desse modo, dentro do Universo, tenha um valor mínimo ou valor máximo – em
outras palavras, um começo ou um fim. Não faz sentido perguntar, portanto, o
que acontece antes do começo ou depois do fim por que tais tempos não estariam
definidos no horizonte de eventos da
Criação.
 |
| Universo Expandido |
A maioria
dos físicos tinham uma aversão instintiva à ideia de o Tempo ter um início e um
fim. Portanto observaram que o modelo matemático poderia não fornecer uma boa
descrição do espaço-tempo perto de uma singularidade como o evento primordial
do Big Bang. A razão é que a relatividade geral, que descreve a força da
gravidade, é uma teoria clássica, e não incorporava ainda a Lei da Incerteza da
Teoria Quântica, que governa todas as outras forças conhecidas. Essa
inconsistência não importa para a maior parte do Universo, durante a maior
parte do tempo, porque a escala na qual o espaço-tempo é curvo é muito grande,
e aquela na qual os efeitos quânticos são importantes é muito pequena. Mas, na
vizinhança de uma singularidade, as duas escalas seriam comparáveis, e efeitos
quânticos gravitacionais seriam relevantes. Os teoremas da singularidade de Penrose e os de Stephen
Hawking realmente estabeleceram que a região espaço-tempo clássica é
delimitada no passado, e possivelmente no futuro, por regiões onde a gravidade
quântica é importante. Para compreendermos a origem e o destino do Universo é
necessária uma teoria quântica da gravidade afirmam esses estudiosos.
 |
| Campos de Energia das Partículas |
Hoje sabemos
que o conceito de partículas e ondas está diretamente interligado e a matéria
como a conhecemos é produto dessa vibração das subpartículas e da consequente
geração de campos de energia ondulatória cuja origem encontra-se no evento
primordial. As regras de funcionamento dessas radiações e interações entre as
partículas/ondas foram definidas nos primeiros instantes da expansão da
singularidade e evoluíram a partir dele de forma significativa dando a feição
do nosso Universo e sua forma quadridimensional que compõe a interação
espaço-tempo. Uma rede intrinsecamente dinâmica que se move, cresce e se
transforma incessantemente e de forma ordenada.
Nenhuma nova
energia foi gerada após o Big Bang, ela só é convertida a partir do evento
primordial, de um estado para outro, dentro de um sistema fechado, com início e
fim prováveis. Podemos estabelecer um padrão de formação do Universo que longe
de parecer aleatório e desordenado é na verdade um sistema lógico de informação
em rede e tempo real que propícia a geração dos elementos em escala do micro ao
macro, a partir do vislumbre de campos de energia no plano infinitesimal das
subpartículas e da própria matéria até os agrupamentos resfriados das galáxias,
convergindo para os sistemas estelares e a formação dos planetas em órbitas
variáveis em torno destas fontes conversoras de energia e matéria.
Este
conjunto de elementos propícios deu origem ao plano planetário e por sua vez à
criação dos fatores que deram origem a vida. Muito mais que uma sequencia de acasos
felizes, o que seria como ganhar muitas vezes seguidas numa loteria de números
universal, todos os eventos seguem um ordenamento no sentido de Vontade de
organização. Podemos então perceber um
ordenamento que se inicia da singularidade do Big Bang até a formação de
grandes caldeirões estelares que forjaram os elementos para a formação de
massas resfriadas planetárias e alguma, em especial a nossa, situada em algum
lugar insignificante da ponta da Via Láctea, na posição “Cachinhos de Ouro”
(nem tão quente e nem tão fria) da órbita em relação ao Sol, onde na sua massa
planetária, num meio líquido aquoso proveniente do espaço profundo, seres
unicelulares puderam ser gerados através de processos eletroquímicos para
formar os primeiros organismos vivos que deram origem a todos os seres
existentes do planeta e uma atmosfera generosa que garante a sua sobrevivência
e por consequência a sintetização pelos organismos da energia primordial para
garantia de nutrição e reprodução da vida de forma exuberante, em quase negação
e no sentido inverso da entropia mecânica e da segunda Lei da Termodinâmica.
O
ordenamento do Universo pode ser verificado em todos os fenômenos estelares.
Como afirmam os premiados cientistas Hans A. Bethe e Gerald Brown, ambos os
pesquisadores detentores do prêmio Nobel de Física sobre suas descobertas de
como as supernovas explodem. No Universo quando o combustível nuclear das
grandes estrelas se esgota, seu núcleo colapsa e implode em milissegundos. O
rebote subsequente do núcleo gera uma onda de choque tão intensa que ejeta a
maior parte da massa estelar em forma de gases. Neste caso uma implosão é
transformada em explosão. Quando a explosão termina, a maior parte da massa da
estrela já foi espalhada pelo espaço, e tudo o que resta no centro são suas
cinzas densas e escuras. Em alguns casos elas podem até desaparecer em um
buraco negro. Segundo as palavras dos dois estudiosos sobre o fenômeno: “Pode
parecer que a implosão estelar é um processo caótico, mas na verdade é bem
organizado. Toda a evolução da estrela ocorre em direção a condições mais
ordenadas, ou de menor entropia.”
Segundo estudiosos do assunto, a formação e existência
de elementos mais pesados do que o ferro no sistema solar, por exemplo, requerem uma
entrada líquida de energia. Esses elementos pesados não parecem surgir dos
fornos estelares; eles provavelmente foram sintetizados da explosão de uma
supernova. Devido a considerável abundância desses elementos pesados em nosso
sistema intui-se que o Sol é uma estrela de segunda geração, proveniente da
condensação dos restos de matéria originados depois da explosão de uma estrela
supernova. O nosso sistema solar, e com ele a Terra possivelmente formou-se há
cerca de 4,5 bilhões de anos a partir deste evento cósmico de proporções inimagináveis.
 |
| Estrutura da Partícula de um Elemento Complexo |
No processo
de evolução biológica alguns pretendem tratarem-se as mutações genéticas de eventos
frutos do acaso, processos aleatórios, sem ordenamento nem objetivo. Embora estes cientistas reconheçam a existência de restrições moleculares a determinadas alterações. Mas
sabemos que as mutações genéticas podem ser geradas, entre outras coisas, pela
radiação cósmica, incontáveis partículas oriundas do espaço profundo, que os corpos dos seres vivos estão expostos diariamente, com sua potência reduzida e filtrada pela
presença da camada de proteção gerada pelo campo magnético terrestre e que interpenetram os corpos de todos os seres da biosfera. É interessante imaginar
que nesta luta pela sobrevivência às condições planetárias só os mais aptos conseguem
manter sua progênie. E também sabemos que existe uma propensão para a cada vez maior
especialização de cada organismo a partir do seu meio, o que torna-o mais sensível às mudanças do seu habitat e passível de extinção.
Conforme já
mencionado, o nosso planeta possivelmente formou-se a 4,5 milhões de anos, e as
rochas onde foram encontrados os primeiros fósseis microscópicos foram formadas
há 3,2-3,4 bilhões de anos. O que chama a atenção dos estudiosos é a morfologia
destes microfósseis já se assemelharem bastante à estrutura celular atual.
Formas ainda mais simples de vida devem ter existido antes daquela época, e a
maioria da evolução química ocorreu tendo tais formas como protagonistas. Tudo
isto indica que a vida surgiu muito rapidamente na história da Terra, como se
espera que uma reação química ocorra, desde que se forneçam as condições
apropriadas do meio dizem os cientistas.
Então podemos
conceber que foram as forças do Universo as responsáveis pelo mundo que
habitamos e pela nossa própria existência e a dos outros seres vivos. Lembrando
que a gravidade permitiu a vida sobre a superfície planetária e o movimento de
nosso planeta ao redor do Sol em órbita concêntrica perfeita, o
eletromagnetismo protegeu os seres vivos dos raios cósmicos e forneceu uma
blindagem ao planeta contra as radiações solares e foram as primitivas descargas
atmosféricas de alta intensidade que geraram a vida no caldo primário, a força
nuclear fraca e a força nuclear forte deram a consistência necessária para a
matéria densa e a matéria sutil interagirem e o resultado da interação destas
forças promoveu a evolução das células no planeta dentro de um padrão organizado
que propiciou a dinâmica da Criação.
Do Principio
da Vontade Cósmica –
O processo
da Criação foi constante e podemos deduzir
que a vida como um todo propõe um ordenamento maior da matéria. Mas
podemos falar de uma Vontade Cósmica? Schopenhauer em sua obra: “Sobre a
Vontade da Natureza” analisando a sincronicidade de suas teorias sobre a
Vontade com as de um sábio taoista chinês do século XII, Tchu Si, ou Tchu Fu
Tze, sistematizador da filosofia chinesa, que discorreu sobre o conceito chinês
de Tien, o Céu, como abstração do que pode ser interpretado pela filosofia
milenar daquele povo:
“Pode parecer que Tien designe ‘o
maior entre os grandes’ ou ‘acima de tudo o que é grande no mundo’: no entanto,
a indeterminação de sua significação no uso linguístico é incomparavelmente
maior do que a expressão céu nas línguas europeias (...)”
“Tchu Fu Si diz: ‘que no céu haja uma
pessoa (isto é, um ente sábio) que julga e decide sobre os crimes é algo que
não deve ser dito de modo algum; mas, por outro lado, tampouco se pode afirmar
que não há nada que exerça um controle supremo sobre estas coisas.”
O mesmo sábio ao ser questionado
acerca do “Coração Celeste”, se ele seria cognoscível ou não, ao que respondeu:
“Não se pode dizer que o espírito da natureza seja destituído de inteligência,
mas ele não tem nenhuma semelhança com o pensar humano (...) “
“Segundo uma de suas autoridades,
tien é denominado regente ou soberano (tshu) devido ao conceito do poder
supremo, e uma outra (autoridade) expressa-se a respeito do seguinte modo: ‘se
o céu (tien) não tivesse um espírito dotado de intenção, ocorreria que da vaca
nascesse um cavalo e que o pessegueiro carregasse flores de pera. – Por outro
lado é dito que o espírito celeste é dedutível daquilo que é a espécie humana! ”(Tradutor
inglês utilizou-se do ponto de exclamação para expressar seu espanto – Nota do
Autor)”
Sem cair na
armadilha da simplificação panteísta podemos imaginar uma complexidade
crescente do ordenamento do Universo em uma dimensão muito acima de nossa capacidade
atual de entendimento e longe do cabedal de conhecimentos que nossa física
propõe explicar. Não pretendo aqui afirmar da existência de uma metafísica, ou
do sobrenatural além do conhecimento humano, mas informar sobre os fenômenos
naturais que compõem todo o espectro da Criação, pois todas as manifestações do
ordenamento cósmico são naturais, mas muitas estão além do nosso atual
entendimento.
Os filósofos
da atualidade sabem que existe uma linha evolucionária comum que vai da matéria
cósmica forjada nas estrelas à vida e da vida para a complexidade da volição da
mente como unidade em cada estrutura celular senciente. Alguns padrões comuns
se repetem e garantem um aumento de autoconsciência em diferentes níveis e
domínios da evolução da matéria, um espelhamento, em cada individuo, numa
relação radial e em escala ascendente. A Vontade Primordial, em substituição ao
conceito de espírito, é acionada, em um sistema de distribuição ramificado e
formador de organismos complexos e estanques que são a biodiversidade
planetária, o que intensifica as probabilidades de sucesso da sua ação
organizadora em direção a um objetivo conhecido pelo Todo, mas desconhecido
para cada individuo que compõem a rede. Um processo aparentemente infinito para
o individuo que carrega em seu interior como herança, o fio da existência, a
ilusão de uma ligação particular de imortalidade e que está sempre presente
como potência em todo o estágio finito de cada organismo, mas que se torna mais
disponível a cada salto evolucionário em gerações sucessivas.
Podemos
acompanhar fenômeno semelhante na evolução tecnológica que na verdade é uma
expressão da vontade humana em complexidade crescente. O homem cria a sua
semelhança seus engenhos que na verdade são extensões dele mesmo e inferências da
cultura e do comportamento humano. Alguns cientistas acreditam que as mudanças
tecnológicas afetam o genoma humano e agregam novas potencialidades para cada
nova geração.
Mas o
individuo não chega ao mundo desprovido de uma bagagem. Seu potencial em relação
ao mundo exterior já vem programado conforme a época em que ele passa a fazer
parte do seu meio, não como agente passivo, mas sim como agente transformador
de sua geração. O inconsciente coletivo é um processo dinâmico e induz uma
evolução que se traduz no aumento da complexidade cultural e a uma visão mais
universal da sociedade onde está inserido.
A filosofia,
entretanto não possui a mesma dinâmica para todas as classes sociais. As massas
vivem e acreditam ainda num mundo comandado pelas teorias filosóficas da
escolástica tomista, das crenças judaico-cristãs sincretizadas com suas
culturas originais e regionais. Acreditam no antropocentrismo, em imagens
milagrosas personalizadas e no mágico. As crenças evangélicas, seitas que absorvem multidões
de indivíduos comuns em escala crescente, são na verdade cultos aos demônios e nada tem a ver com
as escrituras do cristianismo ortodoxo. Misturam sua fé com crenças de
prosperidade material e deturpam os rituais de origem africana que sincretizam para atrair indivíduos
incultos que compõem as massas mais pobres do Ocidente, numa falsa remissão de
males provocados pelos anseios individuais criados por uma sociedade cada vez
mais competitiva e excludente do capitalismo selvagem. O homem comum encontra alento
no exorcismo e no transe auto infligido ou induzido pelo pastor. São práticas
xamânicas milenares empregadas para seduzir os ingênuos e controlar os
inocentes em troca de dízimos e oferendas financeiras.
Esta
aparente contradição, o descompasso entre as teorias filosóficas
pós-escolástica e o que acredita o povo comum, possui uma dinâmica própria.
Caso tentássemos levar conhecimentos sobre Nietzsche, Hegel, Kant, Schopenhauer,
Darwin e outros filósofos para esclarecimento das multidões, elas teriam apenas
inquietude e aversão. E ainda pior seria tentar descortinar para o homem comum conhecimentos sobre as recentes
descobertas da física quântica, o que, com certeza, colocaria em cheque tudo
aquilo que ele acredita ser real.
Por outro
lado ao afirmar-se a ideia de uma vida após a vida. Um paraíso além da morte, o
homem comum deixa de perceber que seu destino final e o da humanidade está
diretamente ligado à Terra. É desse planeta onde ele vive e extrai sua
subsistência e será de onde seus descendentes em futuras gerações irão também
viver. O culto a Eros e Tanátos, gerador dos conhecidos conflitos freudianos
sobre fertilidade, procriação e morte, no entanto persistem velados no inconsciente da fé na visão interior do homem comum em seu cotidiano.
A Revolução
da Filosofia Transcendente pode criar uma nova forma de levar o entendimento do
Universo para este homem comum. Velhos paradigmas devem ser combatidos e
abandonados para que o ser humano possa dar um novo salto evolutivo em direção
da autossuficiência e da sustentabilidade planetária. Enquanto as multidões
imaginarem uma falsa recompensa no porvir "post morten" nunca teremos uma visão objetiva do
meio ambiente nem uma ação que permita uma revolução interior do homem comum em direção à
sustentabilidade como filosofia de massa.
Ken Wilber
em sua obra: “Uma Breve História do Universo” ao ser questionado sobre as
grandes tradições espirituais da humanidade estabelece dois campos distintos de
crenças. O caminho ascendente, puramente transcendental e do outro mundo, que é
geralmente puritano, ascético, iogue, e tem uma tendência para desvalorizar ou
até mesmo negar o corpo, os sentidos, a sexualidade, a Terra, a carne. Esse
caminho busca a salvação num reino que não pertence a este mundo e considera a
manifestação da Samsara como algo
ilusório e do mal e assim anseia a sair totalmente da roda. Para os que anseiam
a ascensão, qualquer tipo de descida pode ser visto como ilusório ou até mesmo
do mal. O caminho da ascensão glorifica o Todo, não as Partes, o Vazio, não a
Forma, o Céu, não a Terra.
O caminho
descendente segue, portanto em direção contrária. É o caminho deste mundo, e
glorifica as Partes, não o Todo. Ele exalta a Terra, o corpo, os sentidos, e a
sexualidade. Esse caminho identifica até o Espírito com o corpo sensório, com
Gaia, com a manifestação, e percebe no nascer do Sol e da Lua todo o Espírito
que uma pessoa pode almejar. É um caminho puramente imanente e despreza tudo o
que seja transcendental. Na verdade, para todos os adeptos do caminho
descendente, qualquer forma de ascensão é vista como algo do mal.
O confronto
entre estas duas correntes do Espírito nos últimos dois mil anos sempre foi
brutal e sangrento. Assim os seus crentes na verdade nunca entendem o que
pretende a Suprema Vontade Universal, o Tao ou qualquer outro nome que defina o
caminho. Quando alguma facção acredita entender o caminho correm rios de
sangue. No Ocidente, afirma Wilber, desde os tempos de Agostinho a Copérnico,
temos um ideal puramente ascendente, do mundo do além. A salvação final e a
libertação da alma não poderiam ser encontradas neste corpo, na Terra, nesta
vida. Isto quer dizer que a vida do individuo pode ser perfeita, mas tudo pode
se tornar mais interessante ainda quando ele morrer, quando for para o outro
mundo.
Então com o
advento da modernidade e da pós-modernidade ocorreu uma profunda inversão. Os ascendentes
sofreram um ocaso enquanto os descendentes tomaram a dianteira. Esta época
passou a ser governada pelos descendentes, por uma cosmovisão descendente, ou melhor,
“uniforme”, isto é, a ideia que o mundo sensório, empírico e material é o único
que existe. Não existe nenhum potencial superior ou mais profundo disponível
para o “ser”. Nenhum estágio superior de consciência, por exemplo. Nesta
concepção existe apenas o que podemos ver com nossos sentidos ou pegar com
nossas mãos. É um mundo restrito e privado de qualquer tipo de energia
ascendente, totalmente vazio de qualquer transcendência. Para os descendentes
qualquer tipo de ascensão ou transcendência é visto como uma crendice mal
encaminhada, na melhor das hipóteses, ou como o demônio na pior.
Logo, no
mundo descendente em que vivemos hoje, dentro desta rede terrena de informações
instantâneas, e inseridos em uma realidade simplória, de superfícies monótonas e
enfadonhas pobres de conteúdo, onde impera a tecnologia de ponta e o
obsoletismo forçado, seja com Capitalismo ou Marxismo, industrialismo
consumista ou ecologia radical, em todos os casos, a divindade subliminar
imposta pelo marketing globalizante, pode ser registrada com nossos sentidos,
emulada com falsos sentimentos altruístas e mordida com nossos dentes até o
esgotamento final de sua forma de deus mercado.
Ao recortar
o Universo em suas partes preferidas, ascendentes e descendentes estão apenas
contribuindo para a brutalidade desta guerra na tentativa insana de converterem
e coagirem cada grupo oposto, compartilhando suas doenças particulares e
promovendo o sectarismo.
As tradições
não duais do Oriente e Ocidente podem ser o Caminho para resgatar o equilíbrio
perdido e integrar o Transcendente e o Imanente, o Todo e as Partes, o Vazio e
a Forma, nirvana e samsara, o Céu e a
Terra, o Ascendente e o Descendente numa nova compreensão do Universo. É na
união de ambas as correntes que reside a harmonia, e não no confronto em uma
guerra brutal. Somente quando Ascensão e Descensão estão interligadas é que
podem ser salvos ambos os caminhos. E aqueles cientistas, religiosos, filósofos que não contribuem para esta
união e confundem em suas respectivas áreas de atuação os meios da Criação, com seus fins e de
como a Vida surgiu até a evolução da senciência no planeta, destroem a única
Terra que têm, como também se privam do único Céu que podem abraçar.








